Eduardo O. C. Chaves
Tem sido dito, não inteiramente sem justificação, que a filosofia de David Hume - o seu assim chamado "ceticismo naturalista"- ameaçou (ou mesmo chegou a destruir) as bases, supostamente racionais, da ciência Newtoniana, da moralidade, e da religião. A filosofia de Hume, é bom observar, focalizou-se, quase que tão somente, em três conjuntos de problemas: epistemológicos, filosófico-morais, e filosófico-religiosos. A acusação, pois, de que a sua obra filosófica ameaçou os fundamentos da ciência, da ética, e da religião está diretamente relacionada aos três focos principais de sua atenção filosófica.
É fato conhecido de todos que o próprio Kant admitiu ter sido Hume que, através de sua obra epistemológica, o despertou de sua "sonolência dogmática" e que o levou a fazer as investigações que culminaram na Crítica da Razão Pura (1). Muitos já mostraram que o problema básico da primeira Crítica foi proposto a Kant por Hume. O fato é reconhecido quase que universalmente, e o próprio Kant o menciona repetidas vezes (2). Muitos também já mostraram que a crítica filosófica que Hume fez à religião e à teologia influenciaram a filosofia da religião de Kant, e muitas passagens na "Dialética" da primeira Crítica substanciam esta afirmação (3).
O que não é amplamente reconhecido, porém, é que também o problema básico da filosofia moral de Kant pode ser visto como uma tentativa consciente, por parte de Kant, de responder às conclusões céticas e "irracionalistas" de Hume a respeito da moralidade. Hume tentou mostrar que a razão não pode ser a fonte de nossas distinções morais e o motivo de nossas ações. Isto o levou a concluir que a base da moralidade se encontra nas "paixões", no sentimento. Ao fazer as distinções morais uma questão, ultimamente, de sentimento ou de gosto, e ao reivindicar que a razão nunca pode determinar a vontade, ou mover-nos a agir, Hume excluiu a moralidade da esfera da razão e excluiu a razão pura de toda e qualquer participação na vida moral. A Crítica da Razão Prática foi escrita, no nosso entender, para mostrar o erro desses pontos de vista Humeanos (4).
De um ponto de vista histórico, há pouca dúvida de que Kant estivesse familiarizado com a teoria ética de Hume. Pontos de vista Humeanos são aludidos em vários lugares em Fundamentos da Metafísica da Moralidade e na segunda Crítica (5). Paul Arthur Schilpp, em seu livro, Kant's Pre-Critical Ethics, apresenta evidência que mostra ser bastante provável que Kant tenha sido introduzido às teorias éticas de Hutcheson e Hume por volta de 1756. Ambos são mencionados nas cartas dirigidas a Kant por Hamann em 1759, e Hamann pressupõe que Kant esteja familiarizado com as teorias de ambos. No esboço de seu curso sobre ética, que aparece no catálogo de suas preleções para o Inverno de 1765-1766, Kant menciona Shaftesbury, Hutcheson e Hume, e observa que suas teorias, "embora inacabadas e deficientes, são as que mais levaram adiante a busca dos primeiros princípios de toda a moralidade". Ele promete suplementar estas teorias, em suas próprias preleções, com a precisão de que elas ainda carecem (6).
Mas não basearemos nossos argumentos em considerações históricas externas. Tentaremos mostrar que a lógica da teoria ética Kantiana demonstra que, ao formular esta teoria, Kant tinha como objetivo refutar a posição defendida por Hume, e que é, portanto, bastante iluminador e instrutivo ver a filosofia moral de Kant como uma tentativa consciente de se responder a Hume. Não estamos afirmando que Kant tenha tomado cada argumento oferecido por Hume, em seguida respondendo-o ou refutando-o. O que Kant fez foi compreender a essência do desafio Humeano, tentando, então, atacar este problema central. É verdade, porém, que ao clarificar a natureza essencial deste desafio várias outras questões terão que ser discutidas, e esperamos que nossa discussão delas ajude a esclarecer alguns pontos delicados das teorias éticas de Hume e de Kant.
Embora, pois, haja vários modos de se abordar a filosofia moral de Kant, neste trabalho nós a esboçaremos do ponto de vista de sua relação com a filosofia moral de Hume, destacando, no processo, a natureza do desafio filosófico-ético de Hume a Kant.
No segundo capítulo da "Analítica" da segunda Crítica, Kant discute, ao analisar os conceitos de bem e mal, um ponto de vista ético que inclui a teoria Humeana, mesmo que não seja inteiramente idêntico a ela. O contraste entre a posição de Kant e a posição que ele está discutindo é bastante iluminador. Kant apresenta as duas posições na forma de uma alternativa:
"Ou: um princípio da razão é visto como sendo determinativo da vontade, sem referência a possíveis objetos da faculdade do desejo (e, assim, visto como sendo determinativo apenas através da sua forma legal); neste caso aquele princípio é uma lei prática a priori, e a razão pura terá que ser considerada prática, pois a lei diretamente determina a vontade: a ação que se conforma a esta lei é, em si própria, boa, e a vontade, cujas máximas sempre se conformam a esta lei, é boa, absolutamente, e em todos os seus aspectos, e, também, a condição de todo o bem. Ou: um determinante oriundo da faculdade do desejo precede a máxima da vontade e pressupõe um objeto de prazer ou disprazer, e, consequentemente, algo que causa prazer ou sofrimento; neste caso, a máxima da razão, que nos exorta a buscar o primeiro e evitar o segundo, determina que ações são boas somente com referência à nossa inclinação; estas ações são boas, porém, somente como meios para um certo fim, e as máximas que as dirigem não devem ser chamadas de leis, pois são somente preceitos práticos e razoáveis".
"No segundo desses dois casos, o fim, i.e., o prazer que buscamos, não é o bem, mas somente o bem-estar, não é um conceito da razão, mas somente um conceito empírico de um objeto sensorial. Somente os meios para este fim, i.e., as ações, são chamados bons (porque deliberação racional é requerida para se determinar os meios necessários para aquele fim). Mas, mesmo assim, as ações não são absolutamente boas, mas somente boas em relação ao prazer que elas propiciam, i.e., relativamente boas. A vontade, que é afetada por estes preceitos, não é a vontade pura, pois esta se preocupa somente com aquilo que faz com que a razão pura possa ser prática" (CRPr, pp. 64-65).
Deixando de lado, momentaneamente, algumas outras diferenças, e arriscando uma simplificação, cremos que poder-se-ia, com justiça, descrever a diferença básica entre estas duas posições éticas como sendo uma diferença de abordagem, ou ponto de partida: que conceito será tomado como o conceito ético fundamental em nossa teoria, o "bem" ou o "certo" (ou, o que vem a ser a mesma coisa, o "dever")? C. D. Broad está certo, cremos, quando observa que o ponto de desacordo mais fundamental entre Hume e Kant, no que diz respeito às suas teorias éticas, é o seguinte:
"Para (...) Hume, as noções de bem e mal são primárias, as de certo e errado secundárias, e derivadas das primeiras. Hume mal menciona a idéia do dever. Uma ação ou intenção certa é simplesmente aquela que leva, ou tende a levar, a um bom resultado. Para Kant, a noção do dever, ou da obrigação, e as noções do certo e errado, são fundamentais. Um homem bom é aquele que habitualmente age certamente, e uma ação certa é aquela que é realizada por um sentimento de dever"(7).
Kant diz: "a lei moral é que define o conceito do bem (...) e que o torna possível" (CRPr, p. 66). A noção de um "bem absoluto", i.e., de um bem não sujeito a nenhuma condição- um bem-em-si-próprio - não se harmoniza bem com a segunda posição esboçada por Kant na citação acima, pois, Kant argumenta, nesta posição o "bem" será sempre definido em relação a algum desejo ou sentimento. Em outras palavras, o bem será sempre, e somente, instrumental ou relativo, i.e., "bom para" a satisfação de desejos ou inclinações (Cf. CRPr, p. 61) (8).
Por conseguinte, Kant distingue entre dois tipos de bem: bonitas naturalis (ou pragmatica) e bonitas moralis. O primeiro é um bem condicionado ou relativo, um bem que não é "bom-em-si-próprio", mas simplesmente bom em função de algo que se deseja. Na verdade, Kant também distingue entre bonitas naturalis e bonitas problematica. Ambas estas noções têm a haver com visões condicionadas ou relativas do bem. Mas há uma diferença entre elas: a última tem a haver com algum propósito que é arbitrário ou opcional. Neste sentido, podemos chamar um dado veneno de bom (problematicamente), se o nosso propósito for, e.g., cometer suicídio, e se soubermos que aquele veneno será um meio apropriado de conseguirmos nosso objetivo ou fim. Contudo, é obvio que este tipo de bem é bastante relativo, pois muito poucos se dão este propósitos. É aqui que a noção de bonitas naturalis entra em cena. A bonitas problematica tem a haver com fins e propósitos que pessoas podem ter. Contudo, "há um fim (...) que, podemos pressupor, existe em todos seres racionais", diz Kant. "Há um propósito que eles não somente podem ter, mas que eles todos têm, por necessidade natural. Este propósito é a felicidade" (FMM, p. 33). "Ser feliz", observa Kant, "é necessariamente o desejo de toda criatura racional" (CRPr, p. 24). Por "felicidade" Kant entende a satisfação de nossos desejos e quereres, e de nossas inclinações:
"A felicidade é a condição de um ser racional no mundo, em cuja existência inteira tudo caminha segundo o que ele deseja e quer. A felicidade se baseia, pois, na harmonia da natureza com os desejos e fins desse ser, bem como com a força motivadora da sua vontade" (CRPr, p. 129).
Desde que todo ser racional deseja ser feliz, a bonitas naturalis é o meio de se atingir este fim não-opcional. Aqui jaz a diferença entre a bonitas naturalis e a bonitas problematica. Aqui neste trabalho ignoraremos a última, pois não tem maior significado para a discussão.
Contudo, há, além da bonitas naturalis, um bem que é ainda mais elevado: o bem moral, a bonitas moralis, que é o bem absoluto, ou o bem que não leva em consideração desejos ou inclinações, o bem que não é instrumental a algum outro tipo de propósito, mas é intrinsicamente bom. Segundo Kant, a ética tem a haver tão somente com a bonitas moralis. A bonitas naturalis (que diz respeito à felicidade) está fora da esfera da moralidade: ela tem a haver tão somente com o que Kant chama de "prudência", isto é, "a habilidade de usar meios que levem ao fim universal do homem, a felicidade" (9). Visto que o que faz um ser feliz não faz, necessariamente, o outro feliz também, a questão do que seja a felicidade para um dado indivíduo, e de quais sejam os melhores meios de atingí-la, é uma questão empírica, que cai dentro do domínio da razão empírica, não da razão pura (10). Assim que a razão determina quais são os melhores meios para este fim universal, o desejo de ser feliz se torna a força propulsora e determinadora da vontade, movendo a pessoa a agir em conformidade com as "ordens" da razão empírica.
Estas ordens aparecem na forma de "imperativos". "Todos imperativos", diz Kant, "ordenam ou hipoteticamente, ou categoricamente" (FMM, p. 31). No caso das ordens da razão empírica os imperativos são todos hipotéticos: as ações ordenadas por estes imperativos não são ordenadas absolutamente, pois pressupõem o fim para o qual são meios - estas ações são ordenadas com vistas ao fim a que se dirigem (Cf. FMM, p. 33). Contudo, no caso da bonitas moralis, o imperativo que ordena que a busquemos não é expedido pela razão empírica, desde que o bem moral não é condicionado por nada empírico: ele é o bem-em-si-próprio. A ordem de buscar este bem é, portanto, expedida pela razão pura, e a forma desta ordem é um imperativo categórico. "Há um imperativo", diz Kant, "que diretamente ordena uma certa conduta, sem fazê-la instrumental a algum outro propósito ou fim. Este imperativo é categórico" (FMM, p. 33).
No caso da bonitas naturalis vimos que o desejo de ser feliz era a força propulsora e motivadora da vontade. Mas desde que a bonitas moralis não está relacionada a desejos ou inclinações, aqui a própria razão pura se torna a força propulsora e motivadora da vontade. Isto é o que Kant quer dizer quando argumenta que a razão pura poder ser prática. Mostrar, portanto, que a razão pura pode ser prática é o problema central de Kant, na segunda Crítica. Mas estamos indo muito depressa. Temos que retornar ao ponto de partida deste trabalho. Mas antes que o façamos, deve ser mencionado que, estritamente falando, um imperativo hipotético não ordena: ele apenas "aconselha" (Cf. FMM, p. 34).
Voltemos à alternativa (ao "ou-ou") que Kant apresenta na passagem citada no início deste trabalho. Kant observa que os pontos de vista lá descritos expressam um "paradoxo de método". O paradoxo, na opinião de Kant, é que "os conceitos de bem e mal não devem ser definidos anteriormente à lei moral, como se fossem o fundamento no qual ela se baseia". Na opinião Kantiana, os conceitos de bem e mal "devem ser definidos depois, e por meio, da lei moral" (CRPr, p. 65). Deve entender-se o que é bom, em um sentido moral, segundo Kant, em referência àquilo que é ordenado pela lei moral, através de um imperativo categórico. O bem deve ser definido em termos daquilo que deve, incondicionalmente, ser feito, ou, em outras palavras, em termos do que é certo (11). Kant corretamente vê que a diferença básica entre estas duas posições tem a haver com método, ou abordagem (12). E as abordagens são diferentes porque as questões que elas tomam como ponto de partida são diferentes.
Hume define sua posição, em geral, como "uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nas questões morais", i.e., humanas (13). O fato de que o termo "moral" tinha um sentido bem mais amplo no tempo de Hume não invalida o ponto que vamos enfatizar, pois o termo, então, incluía o que Kant, e nós, entendemos por ele, comumente. Hume aborda seu estudo da moralidade com a convicção, quase indubitável, de que há "distinções morais". "Aqueles que negam a existência de distinções morais", observa ele,
"devem ser classificados como disputantes não-engenhosos, que realmente não acreditam nas opiniões que defendem, mas que entram em controvérsias porque são afetados, têm espírito de contradição, ou porque desejam exibir espirituosidade e esperteza maiores do que as do restante da humanidade" (14).
A realidade das distinções morais que fazemos é, para Hume, o fato básico de nossa experiência moral e vai constituir o ponto de partida para a sua teoria ética. Nós, de fato, distinguimos entre bem e mal, virtude e vício, certo e errado - de onde provêm estas distinções? Esta é a pergunta básica de Hume. É nesta altura que o seu método experimental entra em cena. Na segunda Investigação Hume promete fazer o seguinte. Primeiro, estudar a natureza de nossas distinções morais, ou, em outras palavras, estudar o que queremos dizer quando chamamos algo bom, ou alguém virtuoso. Sua sugestão inicial é que o bom ou o virtuoso é aquilo (ou aquele) que recebe uma aprovação geral da humanidade, quando a humanidade tem toda a informação factual relevante para julgar (15). Segundo, Hume tenciona fazer uma sinopse das coisas que são chamadas boas, ou virtuosas. Hume também observa, neste contexto, que somos atraídos pelas coisas que chamamos boas e repelidos por aquelas que chamamos más, de modo que o bem tem, por assim dizer, um "poder magnético" que nos move - ou que determina a nossa vontade - a agir em sua busca. Terceiro, Hume tenciona investigar o que é que todas as qualidades que consideramos boas, ou virtuosas, tém em comum, de modo que princípios universais - dos quais aprovação ou culpa morais possam ser derivadas - sejam trazidos à tona (Cf. IPM, pp. 7, 107).
No início do terceiro Livro do Tratado, Hume introduz novamente um de seus temas favoritos, afirmando que percepções podem ser de dois tipos: impressões e idéias (16).
"Esta distinção", ele observa, "nos leva a fazer a pergunta que abrirá nossa investigação acerca da moralidade. Esta pergunta é se distinguimos entre vício e virtude, e se pronunciamos uma ação culpável ou digna de louvor, através de nossas "idéias" ou "impressões" " (TNH, III:iii:1).
Assim, também Hume coloca o problema da moralidade em termos de uma alternativa. A primeira alternativa, a saber, que distinguimos entre vício e virtude por meio de nossas idéias, é, essencialmente, a posição racionalista (discutida em TNH, III:i:1). A segunda alternativa, isto é, o ponto de vista que afirma que nossas distinções entre qualidade culpáveis e dignas de louvor são derivadas de uma impressão original, é a posição do próprio Hume (discutida em TNH, III:1:2). Estaremos mais interessados aqui na primeira alternativa, pois é aqui que o desafio ético a Kant é elaborado. Para os nossos propósitos não é necessário investigar a resposta do próprio Hume, pois o que é mais significativo é o modo em que ele coloca o problema. Referindo-se, pois à primeira alternativa, Hume diz que há aqueles
"que afirmam que virtude nada mais é do que conformidade aos ditados da razão; que coisas têm, eternamente, propriedades e impropriedades, as quais são as mesmas para todos os seres racionais que as contemplarem; que medidas imutáveis de certo e errado impõem uma obrigação, não só sobre as criaturas humanas, mas também sobre a própria divindade. Todos estes sistemas concordam em afirmar que a moralidade, como a verdade, é discernida meramente através de idéias, através de sua justaposição e comparação. Para considerar estes sistemas, portanto, precisamos considerar apenas se é possível, através tão somente da razão, distinguir entre o bem e o mal moral, ou se há outros princípios que nos capacitam a fazer esta distinção" (TNH, III:i:1).
Este ponto de vista tem que enfrentar um certo problema, e Hume aqui contende que aqueles que argumentam que distinções morais são derivadas somente da razão não podem solucioná-lo. A moralidade, diz ele, deve, "supostamente, influenciar as nossas paixões e ações, e ir além dos juízos calmos e indolentes do entendimento" (TNH, III:i:1). Mas se isto é verdade, isto é, se a moralidade deve influenciar e regular a conduta, "segue-se que (as distinções morais) não podem ser derivadas da razão, e isto porque a razão, como já provamos, nunca exerce influência alguma sobre a conduta" (TNH, III:i:1). Na segunda Investigação Hume menciona que "a razão, sendo fria e desengajada" não é motivadora de ação (IPM, p. 112) (17). Colocando isto em terminologia Kantiana, Hume está convencido de que a razão pura não pode ser prática, e que, por tanto, as regras da moralidade não podem ser conclusões de nossa razão (TNH, III:i:1). A Crítica da Razão Prática foi escrita para mostrar que Hume estava errado nesta sua conclusão.
O lugar em que Hume acredita ter provado que a razão não tem, nem pode ter, influência sobre as nossas paixões e ações - "a razão é perfeitamente inerte" (TNH, III:i:1) - e, portanto, que a moralidade, sendo algo prático, não pode ser derivada de razão - pois " um princípio ativo nunca pode ser derivado de um princípio inativo" (TNH, III:i:1) - é uma seção intitulada "Dos Motivos Influenciadores da Vontade" (TNH, II:iii:3). Hume introduz seus argumentos nesta seção com a seguinte observação:
"Nada é mais comum em filosofia, e mesmo na vida diária, do que se falar do combate entre a paixão e a razão, dando-se sempre preferência à razão e afirmando-se que só seremos virtuosos se nos conformarmos aos seus ditados. Toda criatura racional, dizem, é obrigada a regular suas ações pela razão; se outro motivo ou princípio desafia a direção de sua conduta, ele deve opor-se a ele até que seja inteiramente controlado, ou, pelo menos, até que seja forçado a se conformar àquele princípio superior. A maior parte da filosofia moral antiga e moderna parece basear-se neste modo de pensar: nãohá campo mais amplo para argumentos metafísicos, bem como para declamações populares, do que esta suposta preeminência da razão sobre a paixão. A eternidade, invariabilidade, e a origem divina da razão têm sido apresentadas na melhor luz possível; a cegueira, inconstância, e enganosidade da paixão têm sido também apregoadas insistentemente. Para mostrar a falácia de toda esta filosofia, esforçar-me-ei por provar, primeiro, que por si só a razão nunca pode se constituir um motivo para uma ação da vontade; e, segundo, que ela nunca pode opor-se à paixão, na direção da vontade" (TNH, II:iii:3).
Depois de fazer esta observação introdutória, Hume relembra a seus leitores de que há apenas dois tipos de raciocínio, a saber, raciocínio acerca de relações entre idéias e raciocínio acerca de questões de fato e existência (18). Portanto, Hume está usando o termo "razão" aqui para se referir àquilo que denominamos de "razão pura", bem como àquilo que chamamos de "razão empírica". No que diz respeito à razão pura, Hume contende que
"dificilmente será afirmado que a primeira espécie de raciocínio, por si só, possa ser a causa de alguma ação. Como o seu domínio próprio é o mundo das idéias, e a vontade está localizada no mundo das realidades, demonstração e volição parecem ser, por causa disto, totalmente removidas uma de outra" (TNH, II:iii:3).
Visto a razão pura, segundo Hume, tem a haver tão somente com as ciências matemáticas, a contenção de que ela "nunca influencia nossas ações" (TNH, II:iii:3) não parece sequer necessitar de substantificação. Dado o escopo que Hume atribui à razão pura, dificilmente se esperaria que ela pudesse diretamente, e por si só, influenciar nossas ações.
Hume em seguida tenta mostrar que o mesmo vale para a razão empírica. Ele observa:
"É óbvio que quando antecipamos a possibilidade de que dor ou prazer possam advir de um certo objeto, sentimos uma conseqüente emoção de aversão ou propensão e somos levados a evitar ou buscar aquilo que nos dá este desconforto ou esta satisfação. Também é verdade que esta emoção não para aqui, mas fazendo-nos lançar a vista em todas as direções, compreende quais objetos estão ligados com o objeto original através da relação de causa e efeito. Aqui, portanto, o raciocínio tem lugar, pois procura descobrir esta relação, e nossas ações variarão segundo a variação de nosso raciocínio" (TNH, II:iii:3).
Nesta medida, portanto, a razão empírica, averiguando conexões causais, participa de nossos juízos morais. Contudo, Hume observa, "é evidente que neste caso o impulso (para a ação) não parte da razão, mas é apenas dirigido por ela" (TNH, II:iii:3). O que isto quer dizer é que certos objetos nos oferecem o prospecto de dor ou prazer, o qual produz em nós um sentimento correspondente de aversão ou propensão. Na medida em que a razão empírica descobre que estes objetos estão causalmente relacionados a outros objetos, nós também teremos sentimentos correspondentes para com eles. Mas a razão é somente capaz de descobrir estas relações causais - ela não é capaz de afetar-nos diretamente, criando as emoções de aversão ou propensão (TNH, II:iii:3). O que isto significa é que Hume não exclui toda e qualquer participação da razão empírica em nossos juízos morais: o que ele exclui é a sua participação como fonte de juízos morais, como motivo influenciador da vontade. No que diz respeito a estes aspectos, também a razão empírica é inerte.
Hume também observa que a razão empírica, agindo para descobrir relações causais, pode também nos informar a respeito do melhor meio de atingir nossos fins (os quais são sempre ditados pelas nossas paixões e inclinações). Mas ela nunca dita fins a ninguém (Cf. TNH, III:i:1; II:iii:3). Isto quer dizer que a razão empírica opera, segunfo Hume, mais ou menos da mesma maneira que para Kant: tentando descobrir os melhores meios de se atingir um dado fim. Em Kant, o fim - felicidade - é natural, no sentido de que todos os seres racionais, em virtude da constituição de sua natureza, querem, de fato, ser felizes. Em Hume, os fins - i.e., aquilo que realmente nos atrai e nos move a agir - são os prospectos de prazer ou dor que certos objetos ou ações nos oferecem. A razão simplesmente mostra que objetos produzem prazer ou dor, e, se fizermos, por exemplo, a busca do prazer o nosso fim, nos instrui acerca do melhor meio de alcançá-lo.
"Mas embora a razão (...) seja suficiente para nos instruir a respeito das tendências perniciosas ou úteis de certas qualidades ou ações, ela, por si só, não é suficiente para produzir culpa ou aprovação moral. (...) A aprovação ou culpa que resulta não é realização do entendimento, mas do coração; também não é uma proposição ou afirmação especulativa, mas sim um sentimento ativo" (IPM, pp. 105, 108).
É neste contexto que devemos interpretar o famoso dito de Hume que "a razão é, e somente deve ser, a escrava das paixões, e nunca pode pretender a nenhuma outra função, a não ser servir e obedecer as paixões" (TNH, II:iii:3). Esta observação não deve ser interpretada "normativamente", como se Hume estivesse exortando seus leitores a respeito do lugar adequado da razão, advertindo-os a não deixar que a razão viesse a dominar suas paixões. Hume não está prescrevendo nada, mas simplesmente descrevendo o que, na sua opinião, está e não está dentro do campo de alcance da razão. Dada a sua análise do escopo da razão, ela "não pode se aventurar no campo da escolha moral, impondo-se como o princípio que se opõem às paixões ou que nos move à ação", como diz R. David Broiles (19). No que diz respeito à razão empírica, mesmo segundo Kant, ela só pode ser a escrava das paixões (20).
Tem sido dito que Hume, nesta seção, muito longe está de provar sua contenção. A.P. Cavendish (A. H. Basson) diz:
"As considerações que ele apresenta para justificar a sua conclusão têm a forma de exemplos persuasivos, não de provas demonstrativas". O que ele faz é apresentar a sua opinião de uma maneira persuasiva" (21).
John Laird também diz, basicamente, a mesma coisa. Ele contende que Hume está simplesmente afirmando que a razão não pode determinar a vontade, e que, portanto, está cometendo uma petitio principii, porque mesmo filósofos pré-Kantianos já afirmavam o contrário. Definindo aa razão de modo a excluir sua influência sobre a conduta, diz Laird, Hume argumentou falaciosamente (22). Cremos, porém, que Broiles está mais perto da verdade quando observa que esta crítica não é justificada. É verdade que, de uma certa maneira, Hume está definindo a razão de um modo bastante estrito. Contudo, ele não está fazendo isto arbitrariamente: ele está oferecendo todo o Tratado como uma justificação desta definição da razão (23). Sua tarefa foi tentar analisar nossos poderes racionais e cognitivos, e ele cria ter provado que a razão não só não é sintética, como também não é prática (24). Ele tentou mostra que as únicas forças propulsoras da vontade são as paixões, os desejos, e coisas dessa natureza. Ele apresentou argumentos para esta posição, embora pessoalmente achasse bastante óbvio e evidente que isso fosse o caso. Mas ele não baseia sua posição no fato de ela lhe parecer óbvia. Ele oferece uma análise do escopo da razão, e, com base nesta análise, oferece uma definição da razão. Nesta seção ele argumenta que, dada a sua análise do escopo da razão, qualquer que seja a força que nos mova agir, ela não deve ser descrita como a razão. Kant o entendeu desta maneira e concluiu que o onus probandi era seu (i.e., de Kant).
Mas Hume levou o seu argumento ainda mais adiante. Ele também procurou mostrar que, quando se fala filosoficamente, não é apropriado se referir à força que se opõe às nossas paixões como razão.
"Visto que aa razão, por si só, nunca pode produzir ação alguma, nem fazer surgir volições, concluo que esta faculdade é também incapaz de impedir volições, ou de competir com qualquer paixão ou emoção. Esta consequência é necessária. É impossível que aa razão tivesse o poder de impedir volições, a menos que ela pudesse impulsionar a nossa paixão em uma direção contrária. Ora, este impulso, se operasse sozinho, seria, então, capaz de produzir uma volição. Nada pode impedir ou retardar o impulso de uma paixão a não ser um impulso contrário, e se este impulso contrário viesse da razão, esta faculdade poderia ter uma influência original sobre a vontade, e deveria ser capaz de causar, tanto quanto impedir, atos de volição. Mas se a razão não tiver esta influência original sobre a vontade, é impossível que ela possa se opor a qualquer princípio que tenha esta eficácia, ou mesmo que possa fazer com que fiquemos indecisos por um momento. Sugere-se, pois, que o princípio que se opõe às nossas paixões não é a razão, e que estaremos usando o termo impropriamente se o aplicarmos a este princípio. Por conseguinte, não estamos falando estrita e filosoficamente quando mencionamos o combate entre as paixões e a razão" (TNH, II:iii:3).
Apesar de Hume negar, nesta passagem, que o princípio que se opõem às nossas paixões deva ser chamado razão, é perfeitamente claro que Hume não nega que haja um combate ou um conflito aí: o que ele nega é que este combate esteja sendo descrito corretamente quando se refere a ele como o combate entre a razão e as paixões (25). Hume não está dizendo que nossos desejos e nossas paixões nunca são contestados ou resistidos, porque a razão é incapaz de resistí-los, ou de se opor a eles. Há um certo combate aí, mas ele não é entre as paixões e a razão. Mas se não é, por que é que tanta gente o toma como tal? Hume oferece, na parte final da seção, uma explicação para este fato. A razão, diz ele, é "fria e desengajada" - isto é, ela opera sem produzir emoções. Contudo, Hume observa,
"existem em nós certos desejos e certas tendências cuja natureza é bastante calma, os quais, embora sejam paixões bem reais, produzem pouca emoção. Eles são conhecidos através de seus efeitos mais do que pela sensação que produzem. (...) Por causa disto, é muito fácil tomá-los por determinações da razão" (TNH, II:iii:3).
Porque estes desejos são "calmos", o olho naofilosófico - e muitas vezes mesmo o filosófico - julgando pelas aparências os confunde com a razão (TNH, II:iii:3). Consequentemente, aquilo que é impropriamente descrito como o conflito da razão com as paixões nada mais é do que um conflito entre "paixões calmas" e "paixões violentas" (TNH, II:iii:3). Mas se o conflito pode ser plenamente explicado desta maneira, então a razão prática pura é excluída: não há necessidade de postulá-la. Stephen Körner está certo ao observar o seguinte:
"Mas se há conflitos que parecem diferir daqueles (i.e., dos conflitos entre tipos diferentes de desejo), a saber, conflitos do desejo com o dever, e se também estes, apesar das aparências, vierem a ser conflitos meramente entre tipos diferentes de desejos, então teremos que concluir que não há uma razão prática pura. A afirmação de que a razão é prática quer dizer que aquilo que chamamos de o conflito entre a razão e o desejo realmente é o que aparenta ser" (26).
Os desejos calmos aos quais Hume se refere são de dois tipos, a saber:
"Ou eles são certos instintos originalmente implantados em nossas naturezas, tais como benevolência e ressentimento, amor à vida, bondade para com as crianças; ou se limitam à preferência geral pelo bem, e à aversão ao mal, consideradas simplesmente como tais" (TNH, II:iii:3).
O que podemos concluir destas passagens é que Hume, como Kant, também está interessado em explicar porque é que, não infreqüentemente, pessoas agem contra os seus próprios interesses. A diferença entre Hume e Kant é que Hume não acredita ser necessário introduzir aqui a lei moral e a razão prática pura para explicar este fenômeno. FreqÜentemente suprimimos nossos interesses imediatos em favor de interesses mais remotos, mais isto não é tudo - este ponto de vista até os defensores do egoísmo ético avançavam. Hume acredita que freqüentemente suprimimos nossos interesses inteiramente, por benevolência ou por um sentimento humanitário, em favor dos interesses dos outros, ou da comunidade em geral (27).
"Pessoas freqüentemente agem, conscientemente, contra os seus próprios interesses. (...) Em geral, podemos observar que estes dois princípios (as paixões calmas e as violentas) operam sobre a vontade. Quando eles se opõem, um deles prevalece, segundo o caráter geral ou a disposição presente da pessoa. O qque chamamos de força de vontade indica o prevalecimento das paixões calmas sobre as violentas. Contudo, é fácil de se ver que não há pessoa alguma que seja capaz de fazer com que estas paixões calmas sempre prevaleçam, e que nunca tenha aquiecido às solicitações das paixões violentas" (TNH, II:iii:3; cf. IPM, pp. 63-64).
Isto quer dizer que Hume não precisa recorrer aos "cálculos sutis" que os defensores do egoísmo ético precisavam imaginar parwa explicar porque, às vezes, pessoas aparentemente agem contra os seus interesses (28). Os defensores do egoísmo ético tinham que mostrar que ações aparentemente altruísticas tinham só a aparência de altruísmo: no fundo eram executadas por causa de motivos bem egoístas (29). Hume foi capaz de explicar porque é que, às vezes, pessoas realmente agem contra os seus interesses, imediatos e remotos. O que as move a fazer assim são as paixões calmas. Esta doutrina das "paixões desinteressadas" permite que Hume, de um lado, refute o egoísmo ético, e, do outro lado, mostre que é desnecessário recorrer à razão prática pura para explicar porque é que, às vezes, suprimimos nossos interesses e desejos (Cf. IPM, p. 114; cf. também o "Apêndice II", pp. 113 sqq.) (30).
Dissemos acima que deixaríamos de lado a resposta Humeana à questão da fonte de nossas distinções morais. É suficiente citar aqui uma passagem na qual ele resume seu ponto de vista:
"Quando alguém diz que uma ação, ou uma qualidade do caráter, é má ou viciosa, isto quer dizer que, provindo do íntimo da constituição natural desta pessoa, ela tem um certo sentimento de culpa ao contemplar esta ação ou qualidade. O vício e a virtude, portanto, podem ser comparados a sons, cores, sensções de calor e de frio, os quais, na filosofia moderna, não são qualidades de objetos, mas, sim, percepções na mente" (YNH, III:i:1; Cf. IPM, p. 109; IEH, p. 23, n. 2).
Esperamos que este esboço tenha mostrado porque o problema básico de Kant, na segunda Crítica, pode ser visto como uma tentativa de responder ao desafio de Hume, desafio este que tirou a moralidade de dentro do âmbito da racionalidade. Para responder a Hume, Kant tem que mostrar que a razão pura pode ser prática, i.e., que ela pode diretamente influenciar a vontade e mover-nos a agir. No "Prefácio" da segunda Crítica Kant claramente declara que sua tarefa neste livro é mostrar "que a razão prática pura é uma realidade" (CRPr, p. 3). Mais adiante ele menciona que esta Crítica "trata somente da questão: se, e como, a razão pode ser prática, i.e., como ela pode diretamente determinar a vontade" (CRPr, p. 47). As passagens onde ele, repetidas vezes, diz isto se multiplicam (Cf. CRPr, pp. 46 sqq). Discordo, pois, profundamente de H. J. Paton, que afirma ser "grandemente errado sugerir que Kant esteja tentando explicar como a razão pura pode ser prática, ou como a liberdade seja possível" (31).
Quando Kant tenta responder ao desafio Humeano, ele começa de um ângulo diferente. Isto é que causa o "paradoxo de método" acima mencionado. Também Kant começa com um fato da experiência moral: com o que ele considera o fato não-questionável de que nós, algumas vezes, realmente experimentamos "coação moral", isto é, o fato de que algumas vezes agimos contra nossos interesses, simplesmente porque achamos que é nosso dever fazê-lo. Kant, portanto, começa com nossa consciência de que temos uma obrigação de executar as ordens do dever, i.e., de que temos uma obrigação de obedecer ao imperativo categórico emitido pela razão pura, como caracterizado acima (32). Nas palavras de Lewis White Beck,
"O fato moral - o fenômeno a ser explicado e feito inteligível - é a consciência da obrigação de executar as ordens da lei moral. Não temos uma faculdade independente, seja intuição ou sentido moral, que nos ofereça o conceito do bem como algo que deva ser alcançado. O modo em que a preocupação moral surge é a consciência da obrigação moral, que é expressa pela lei e seu imperativo, e não a intuição, ou mesmo a crença, de que algo a ser alcançado, ou realizado, através de ação, seja bom" (33).
Que nossa experiência da coação do dever seja o ponto de partida básico de Kant é algo que pode ser evidenciado em várias passagens:
"Não precisamos ensinar nada de novo à razão comum. Somente precisamos, à maneira de Sócrates, dirigir sua atenção a algo que, basicamente, já lhe é familiar, mostrando que nem a ciência, nem a filosofia, são necessárias para descobrir o que se deve fazer para ser honesto e bom, e mesmo sábio e virtuoso. O conhecimento daquilo que estamos moralmente obrigados a fazer é algo que está dentro do alcance de qualquer um, mesmo do homem mais comum" (FMM, p. 20; cf. CRPr, pp. 94-95).
Kant toma como ponto de partida experiências como esta:
"Todo homem razoavelmente honesto sabe que ele, às vezes, desiste mesmo de uma mentira inofensiva, que o tiraria de uma situação difícil, a que seria até benéfica a um amigo querido, simplesmente para que depois não venha, secretamente, a se desprezar a si próprio" (CRPr, p. 90).
Já na primeira Crítica este era o ponto de vista moral de Kant (Cf. CRP, B 835) (34). O comentário de Beck, portanto, é inteiramente correto: "O juízo moral de cada pessoa é o verdadeiro ponto de partida da filosofia moral de Kant" (35).
Vimos acima que Hume achava óbvio que as únicas forças propulsoras da vontade são paixões, desejos, etc., nunca a razão. Kant, por outro lado, também achava bastante óbvio que a razão pura pudesse ser prática. Portanto, ele, algumas vezes, pressupõe isto e somente pergunta como ela pode ser prática. A consciência da lei moral, por parte do indivíduo, ele denomina de um "fato da razão pura" (Cf. CRPr, p. 31). A realidade objetiva da lei moral é dada, diz ele, e observa que esta realidade não precisa ser provada através de deduções (CRPr, p. 48) (36). Na "Analítica" da segunda Crítica Kant afirma, como um corolário da lei fundamental da razão prática pura - e a lei é esta: "aja de tal modo que a máxima que governa a sua vontade possa sempre ser mantida, ao mesmo tempo, com um princípio estabelecedor de uma lei universal - que
"a razão pura é prática em si própria, e ela dá ao homem uma lei universal, a qual chamamos de lei moral", e observa: "O fato que acabamos de mencionar é inegável. Basta analisar a sentença que as próprias pessoas passam sobre a moralidade de suas ações para ver, em cada caso, que sua razão, incorruptível e auto-coagida, apresenta, em cada ação, a máxima governadora da ação à vontade pura, i.e., a si própria, em sua função prática a priori. Isto a razão faz sem considerar o que nossas inclinações possam dizer ao contrário" (CRPr, pp. 30, 32).
Voltaremos a esta questão. Mas um problema que já pode ser antecipado é o seguinte: Se Kant simplesmente aceita, como um fato dado e inegável, que a razão pura pode ser prática, e que uma dedução transcendental - à semelhança da dedução das categorias na primeira Crítica - para provar a realidade da razão prática pura é desnecessária (Cf. CRPr, p. 48), será que ele não está simplesmente pressupondo aquilo que Hume negava, e construindo um argumento contra Hume com base nesta pressuposição? (37) Investigaremos esta questão em mais detalhe abaixo, quando discutirmos o que Kant tem a dizer a respeito da "liberdade", ou do assim chamado "livre arbítrio". Mas o nosso caminho dará umas voltas ainda, antes de chegar lá.
No segundo capítulo da "Analítica" da segunda Crítica, Kant diz o seguinte:
"O homem é um ser que tem necessidades, na medida em que ele pertence ao mundo dos sentidos. Por causa disto, sua razão certamente tem uma responsabilidade inescapável, para com sua natureza sensual, de atender aos seus interesses e de formular máximas práticas que vissem à sua felicidade.
(...) Mas o homem não é tão inteiramente um animal a ponto de ser totalmente indiferente ao que a razão diz de si própria, e a ponto de usá-la exclusivamente como um instrumento para a satisfação de suas necessidades como um ser sensual. Sua razão não o elevaria, em dignidade, acima da mera animalidade, se somente servisse os fins que, nos animais, são servidos pelos instintos. Se a razão fosse somente um instrumento da natureza sensual do homem, nada mais seria do que um modo específico que a natureza utilizou para equipar o homem para as mesmas tarefas para os quais os animais são qualificados, e não o credenciaria para um propósito mais elevado. Não resta dúvida de que o homem precisa da razão (desde que é parte do mundo sensual) para considerar o que lhe é, e não lhe é, bom. Mas ele tem a sua razão para um propósito ainda mais elevado, a saber, para considerar aquilo que é, intrinsicamente, bom ou mau. Isto somente uma razão pura, não servil à sensualidade, pode julgar. Somente a razão pura pode distinguir esta avaliação moral da puramente sensual, e pode fazer a primeira a condição suprema do bem e do mal" (CRPr, pp. 63-64).
Há muitos aspectos significativos nesta passagem que merecem atenção. Contudo, limitar-nos-emos a dizer apenas duas coisas a respeito dela. Primeiro, esta passagem traz à tona, tão claramente quanto possível, o abismo que separa os Weltanschauungen de Hume e de Kant. Parece que Kant tinha, diante de seus olhos, algumas passagens de Hume, quando ele escreveu o parágrafo acima, pois estas passagens refletem exatamente o ponto de vista que ele está criticando. Por exemplo:
"Qual, pois, é a conclusão desta discussão: A conclusão é simples, embora, devemos confessar, ela esteja bastante distante das teorias comuns da filosofia. (O raciocínio empírico) é uma operação da alma, que, na ocasião apropriada, é tão inevitável quanto o sentir gratidão, quando recebemos benefícios, ou ódio, quando somos injuriados. Todas estas operações são instintos naturais, os quais nem raciocínios nem processos intelectuais são capazes de produzir ou impedir" (IEH, p. 60).
"A natureza, através de uma necessidade absoluta e incontrolável, nos determinou a fazer juízos, bem como a respirar e a sentir" (INH, I:iv:1).
Mas embora os animais adquiram grande parte do seu conhecimento através da observação, parte deste conhecimento é derivado de sua própria natureza, (...) daquilo que chamamos de "instintos", os quais são tão admiráveis e extraordinários, bem como inexplicáveis pelo entendimento humano. Nossa admiração, porém, cessará, ou diminuirá, quando notarmos que o próprio raciocínio experimental, que é comum a nós e aos animais, e do qual depende a conduta de nossa vida, nada mais é do que uma espécie de instinto, ou poder mecânico, que age em nós de um modo que desconhecemos, e que, em suas operações principais, não é dirigido por relações ou comparações de idéias, como o são os objetos de nossas faculdades intelectuais" (IEH, pp. 115-116) (38).
Estas passagens contrastam, de uma maneira clara, de um lado, o naturalismo de Hume (39), e, do outro lado, a convicção de Kant de que o homem não é apenas parte da natureza, mas que ele também é cidadão "em um mundo melhor" (CRP, B 426). Isto nos traz ao segundo aspecto que quero enfatizar acerca da passagem de Kant citada acima: nela claramente se reflete o dualismo que jaz ao fundo da teoria ética de Kant. O homem é um "ser sensual", que, como tal, pertence ao mundo natural. Mas ele tem, também, um "propósito mais elevado", e, quando visto do ângulo deste propósito, o homem pertence ao "mundo inteligível", no qual ele é governado pela razão pura, e não por seus desejos e interesses sensuais, um mundo no qual ele é livre, e não determinado pelos eventos do seu passado ou do seu meio ambiente. Por amor à simplicidade, designemos estas duas dimensões como "natureza" e "razão". Kant diz:
"Um ser racional deve se considerar como inteligência (e não focalizar em seus poderes inferiores), como membro do mundo do entendimento, e não do mundo dos sentidos. Portanto, o homem pode ver-se de dois modos: (...) primeiro, como membro do mundo dos sentidos, sob as leis naturais (...) e, segundo, como membro de um mundo inteligível, sob leis racionais que não são empíricas e que independem da natureza. Como um ser racional que é membro do mundo inteligível, o homem não pode pensar a respeito da causalidade de sua própria vontade a não ser em termos da idéia da liberdade" (FMM, p. 71).
O que isto quer dizer, no nosso entender, é que há, em Kant, um dualismo básico entre natureza e razão (40). No que diz respeito à sua dimensão natural, o homem está preocupado com a felicidade, i.e., com a satisfação de seus desejos e de suas inclinações. No que diz respeito à sua dimensão racional, porém, o homem está preocupado com a virtude, i.e., com o ser digno da felicidade, algo que ele só pode conseguir pela obediência à lei moral. Na medida em que o homem é natural, ele é classificado com os animais. É a sua razão que o "eleva, em dignidade, acima da mera animalidade". Na medida em que ele é razão, contudo, o homem quase que participa do mundo divino. O que o impede de vir a ter uma "vontade santa" i.e., uma vontade que sempre, e necessariamente, concorde com a lei moral (Cf. CRPr, pp. 32-33), é o fato de que ele também é natural, pois sua natureza o arrasta, por assim dizer, da obediência à lei moral. Mas o que impede que o homem seja um mero animal é o fato de que ele é também racional. Assim sendo, pois, o homem, segundo Kant, é constituído por esta dualidade: se ele fosse somente natural, não passaria de um mero animal, e a moralidade não se aplicaria a ele; se ele fosse somente racional, seria como Deus, e teria uma "vontade santa", e, aqui também, a moralidade - na forma em que a conhecemos, isto é, envolvendo coação e obrigação - não se aplicaria a ele. Desde que ele é natureza e razão - um animal racional - ele é homem, e, portanto, a moralidade, na forma em que a conhecemos, se aplica a ele. Aqui temos, em forma sumária, a versão Kantiana do conflito entre a razão e a paixão, ao qual Hume se referiu (41).
Este dualismo permeia toda a filosofia moral de Kant e condiciona o grande número de distinções que ele oferece aos leitores: bonitas naturalis vs. bonitas moralis; imperativo hipotético vs. imperativo categórico; agir por interesse vs. agir por dever; prudência vs. moralidade; etc. Kant não vê um modo de se transcender este dualismo, a menos que se postule a existência de Deus e de vida futura. Nesta vida futura Deus reconciliará a natureza e a razão, e concederá felicidade a cada um de modo proporcional à sua virtude, i.e., a felicidade será proporcional ao ser-digno da felicidade. A razão é o bonum supremum, mas para que o bonum consummatum ou perfectum se realize, a razão e a natureza terão que ser consumadas, por assim dizer. E isto somente Deus pode fazer, em uma vida futura. A ética é consumada na religião (Cf. CRPr, p. 134) (42). Mas estes problemas jazem além do escopo do presente trabalho. Nossa tarefa aqui é averiguar porque Kant aceitou, ou postulou, este dualismo. O que o leva a creditar neste propósito mais elevado do homem? Por que Kant acha que ele tem que aceitar a existência de um mundo inteligível, acima do mundo natural da experiência sensorial? A resposta Kantiana a este complexo de perguntas pode ser descortinada através de uma análise da noção da liberdade.
Mas, antes que façamos isto, devemos ainda dizer algo a respeito da visão Kantiana da razão revelada na passagem que estamos discutindo. Kant diz:
"O homem é um ser que tem necessidades, na medida em que ele pertence ao mundo dos sentidos. Por causa disto, sua razão certamente tem uma responsabilidade inescapável, para com sua natureza sensual, de atender aos seus interesses e de formular máximas práticas que visem à sua felicidade" (CRPr, p. 63).
Kant, aqui, concorda com Hume que a razão, na medida em que ela tenta averiguar quais os melhores meios de alcançar os fins empíricos do homem - i.e., na medida em que ela é razão empírica - é a escrava das paixões (43). Contudo, na medida em que a razão realiza esta função, ela não é a razão na qual Kant está interessado na segunda Crítica. Esta razão preocupada com meios-fim - chamêmo-la de "razão instrumental" - é uma razão meramente "prudencial". Uma ação ditada pela razão, nesta capacidade, não é moral, mesmo que esteja de acordo com a lei moral, pois ela "carece da qualidade moral de ter sido executada, não por interesse, mas por dever" (FMM, p. 14). Se uma pessoa é bondosa e amigável, porque encontra satisfação interna e alegria em ser assim, ou porque se alegra com o contentamento que suas ações produzem nos outros, suas ações, embora bondosas e generosas, não têm conotação moral. Uma ação, portanto, não precisa ser executada por motivos vaidosos ou egoístas para carecer de conotação moral. Basta que não tenha sido executada por dever. Aquí está Kant, imaginando a mesma pessoa em um estado diferente de espírito:
"Imaginemos que a mente deste amigo da humanidade estivesse sombreada por tal tristeza que toda a sua simpatia para com a sorte dos outros tenha desaparecido. Suponhamos que ele ainda fosse capaz de trazer benefícios aos outros, mas que as necessidades destes o deixassem impassível, porque estava preocupado com a sua própria tristeza. MAs agora imaginemos que ele se arranque desta insensibilidade, sem ser motivado por qualquer inclinação, e faça uma ação bondosa, simplesmente por dever, não porque deseje fazê-la. Então, pela primeira vez, sua ação adquiriu genuíno valor moral" (FMM, p. 14) (44).
A razão na qual Kant está interessado, na passagem que acabamos de citar, é a razão prática pura: a razão que não está condicionada por nossos interesses, e que, portanto, não é instrumental. Nesta capacidade a razão tem algo a dizer de si própria e não é meramente um instrumento para a satisfação das necessidades sensuais do homem. (Cf. CRPr, p. 63). É a razão prática pura que eleva o homem acima da mera animalidade e que o credencia para a cidadania de um mundo melhor (Cf. CRP, B 426). Esta razão não é a escrava, mas sim a mestra, das paixões.
Aqui vemos o ponto básico que separa Hume e Kant e somos capazes de discernir o significado do desafio ético de Hume a Kant. Segundo Hume, a única coisa que é capaz de mover a vontade do homem é a sua natureza passional (i.e., seus desejos, suas inclinações, etc.). A razão só pode ser a escrava, ou a coordenadora, destas paixões. Ela é inerte, ou desengajada: ela não pode mover a vontade, não pode propor fins e objetivos à vontade. Estritamente falando, não pode haver um conflito entre a razão e as paixões, porque a razão não pode mover a vontade, ou resistí-la, quando esta for movida pelas paixões. Só uma paixão pode resistir uma outra paixão, e o conflito mencionado acima nada mais é do que um conflito entre as paixões calmas e as violentas. A razão só participa da vida moral de um modo instrumental, procurando encontrar os melhores meios para a realização de propósitos que são sempre condicionados empiricamente (45). Kant, obviamente, nega isto. Ele acha que a razão pura, ou a razão nao-influenciada por desejos, emoções, ou paixões, e mesmo contrária a estes, pode ser um determinante direto da vontade e pode causar ações. Portanto, pode haver, e sem dúvida há, um conflito entre a razão e as paixões, entre o dever e o interesse. Na verdade, a moralidade, na forma em que a conhecemos, isto é, envolvendo coação e obrigação, depende deste conflito para a sua existência. Dizer, pois, que a razão pura pode mover a vontade e opor-se às paixões, é dizer que a razão pode dar-se a si própria fins e propósitos, contrário ao que Hume pensava.
Portanto, a questão básica entre Hume e Kant é que o primeiro negou, e o segundo afirmou, que a razão pura pode ser prática. A questão que devemos manter em mente, porém, é a seguinte: Será que Kant fez algo mais do que simplesmente afirmar aquilo que Hume negava? Será que ele está meramente pressupondo aquilo que Hume negou? Se não está, quais são os argumentos que ele oferece para a sua contenção? Como dissemos acima, a resposta de Kant pode ser descortinada através de uma análise do que ele tem a dizer a respeito da liberdade. A idéia da liberdade é a chave para o pensamento Kantiano a respeito deste problema.
Vejamos, pois, finalmente, qual é o lugar que a liberdade ocupa dentro do esquema ético Kantiano. Em uma sub-seção intitulada "Como um Imperativo Categórico é Possível?", na terceira seção dos Fundamentos, Kant diz o seguinte:
(...) imperativos categóricos são possíveis porque a idéia da liberdade me torna um membro do mundo inteligível. Conseqüentemente, se eu fosse um membro somente daquele mundo, minhas ações sempre estariam em conformidade com a autonomia da vontade. Mas visto que eu sou, ao mesmo tempo, um membro do mundo dos sentidos, minhas ações devem se conformar a ela, e este "deve" categórico apresenta uma proposição sintética a priori, pois, além da minha vontade, afetada por desejos sensuais, há a idéia de minha vontade como pura, de si própria prática, e pertencendo ao mundo inteligível, a qual é a suprema condição da outra vontade" (FMM, p. 73).
A idéia da liberdade parece ser considerada por Kant, nesta passagem, como o "passaporte" que nos dá acesso ao mundo inteligível (46). No "Prefácio" da segunda Crítica, Kant diz, no rodapé, que a liberdade é a ratio essendi da lei moral - i.e., a liberdade é a condição da lei moral - e que a lei moral é a ratio cognoscendi da liberdade - i.e., a lei moral é a condição sob a qual a liberdade pode ser conhecida. Kant daí acrescenta:
"Pois se a lei moral já não houvesse sido concebida pela nossa razão, nunca teríamos justificação para pressupor algo como a liberdade, mesmo que esta idéia não fosse auto-contraditória. Mas se não houvesse a liberdade, a lei moral nunca teria sido encontrada em nós" (CRPr, p. 4; cf. p. 30).
Cremos que isto signifique o seguinte: se não houvesse liberdade, a lei moral não poderia existir, e, portanto, nunca poderíamos ter aquela experiência de coação moral que é o ponto de partida para a ética Kantiana. Se não houvesse liberdade, seríamos sempre condicionados ou determinados pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, etc., e nunca poderíamos ter experiências daquele sentido de dever que nos coage a agir contra as nossas inclinações. Isto, parece-nos, é o que Kant quer dizer quando afirma que a liberdade é a ratio essendi da lei moral. Por outro lado, porém, se nós nunca experimentássemos coação moraal, ou se nunca ouvíssemos a voz do dever nos ordenando a agir contra os nossos interesses - em outras palavras, se nunca tivéssemos tido experiência da força da lei moral - nunca teríamos sabido que éramos livres para agir em oposição às nossas inclinações, livres no sentido de que não precisaríamos ser sempre determinados, em nossas ações, por nossas inclinações, mas poderíamos agir em oposição a elas, simplesmente pela força do dever (47). Isto nos parece ser o que Kant quer dizer quando afirma que a lei moral é a ratio cognoscendi da liberdade. "Alguém julga, portanto, que pode fazer algo, porque ele sabe que deve, e reconhece que é livre através disto - um fato que, sem a lei moral, teria permanecido desconhecido a ele" (CRPr, p. 30; cf. p. 163).
Duas perguntas, uma relacionada a outra, imediatamente nos vêm à mente:
1) Está Kant se envolvendo aqui em um argumento circular (cf. FMM, pp. 71-71)?
2) Será que Kant realmente levou a sua discussão avante mediante a introdução do conceito da liberdade?
Discutiremos a segunda pergunta primeiro. Vimos acima que Kant toma como ponto de partida para a sua filosofia moral a experiência comum de coação moral. O que esta experiência mostra, diz ele, é que é um fato indisputável que nós, às vezes, agimos contra as nossas inclinações, e, portanto, agimos por dever, ou por odediência à lei moral. O que ele parece estar acrescentando aqui é que sempre que temos esta experiência, e obedecemos a voz do dever, nós não estamos simplesmente agindo por dever, ou por obediência à lei moral, mas também estamos agindo livremente, i.e., estamos fora do círculo de determinantes empíricos da vontade. Desde que, para Kant, um ser racional sempre age segundo princípios, quando age conscientemente, quando este ser age livremente ele não está agindo "fora da lei", por assim dizer: ele simplesmente não está agindo segundo as leis naturais, as quais poderiam determinar que ele agisse de outra forma. Mas ele está agindo em conformidade a algum tipo de lei. A conclusão de Kant é que, se ele está agindo livremente, e, contudo, em conformidade a alguma lei, esta última só pode ser uma lei que ele dá a si próprio (48). O homem, pois, é, ao mesmo tempo, legislador e súdito. Mas desde que, na opinião de Kant, "natureza, no sentido mais amplo do termo, nada mais é do que a existência de coisas governadas por leis" (CRPr, p. 44), e desde que as pessoas que agem livremente estão agindo segundo leis que deram a si próprias, deve haver uma "natureza", um mundo, que não é sensual, que é suprasensual, inteligível (não sensível), no qual estas leis são, por assim dizer, coordenadas. Isto é o que leva Kant a falar de um mundo inteligível (Cf. CRPr, p. 44). E a liberdade, a ratio essendi da lei moral, é, como vimos, o passaporte para este mundo inteligível. "Através da liberdade a vontade de um ser racional (...) se torna consciente de sua existência em uma ordem de coisas inteligível", diz Kant, de modo que "se a liberdade nos é atribuída, ela nos transfere para uma ordem de coisas inteligível" (CRPr, p. 43; cf. FMM, p. 73).
A razão porque sugerimos acima que Kant possa não ter levado sua discussão muito adiante com a introdução da idéia da liberdade é que explicar como a razão pura pode ser prática é virtualmente a mesma coisa que explicar como a liberdade é possível. Dizer que a razão pura é prática é dizer que ela dá ordens, através da lei moral, à vontade, e que a vontade é, algumas vezes, determinada somente por estas ordens. Mas quando a vontade age sob a determinação da lei moral, ela está sendo livre. Assim sendo, na segunda Crítica KAAnt afirma que o problema de como a lei, por sí própria, pode diretamente determinar a vontade "é idêntico com o problema de como a liberdade é possível" (CRPr, p. 75). Algumas seções acima ele havia dito que o fato através do qual a razão pura se torna prática está "inextricavelmente ligado à consciência da liberdade da vontade, e é, realmente, idêntico a ela" (CRPr, p. 43). Mas se este é o caso, então a introdução da liberdade aqui não nos ajuda muito a solucionar o problema, a menos que Kant seja capaz de provar a realidade da liberdade, independentemente. Mas isto, ele nos diz, não pode ser feito:
"(...) a questão: "Como é um imperativo categórico possível?" pode ser respondida até este ponto: poemos citar a única pressuposição sob a qual ela é possível. Esta é a idéia da liberdade. Nós podemos discernir a necessidade dessa pressuposição, a qual é suficiente para o uso prático da razão, i.e., para a convicção da validade deste imperativo, e, conseqüentemente, da lei moral. Mas como esta pressuposição é possível não pode, de maneira alguma, ser discernido pela razão humana" (FMM, p. 80; grifo nosso).
Na segunda Crítica ele diz:
"(...) como a lei, por si só, pode determinar a vontade (tato que constitui a essência da moralidade) é um problema insolúvel para a razão humana. Ele é idêntico ao problema de como a liberdade é possível" (CRPr, p. 75; grifo nosso).
E nos Fundamentos ele diz a mesma coisa, tão claramente quanto possível:
"(...) como pode a razão pura, por si própria, sem qualquer outro incentivo (...) ser prática?
(...) para explicar isto a razão humana é totalmente incompetente, e todo o trabalho e todos os esforços no sentido de se encontrar uma explicação são desperdiçados" (FMM, p. 81; grifo nosso).
Vimos acima que Kant declarou, explicitamente, em mais de um lugar, que sua tarefa, na segunda Crítica, era mostrar que, e como, a razão pura podia ser prática. "Esta Crítica trata somente da questão: se, e como, a razão pode ser prática, i.e., como ela pode diretamente determinar a vontade"(CRPr, p. 47; cf. pp. 3, 43, 46). Porém, segundo o que ele próprio diz nos Fundamentos, todos os esforços da segunda Crítica "são desperdiçados", pois a razão é "totalmente incompetente" para explicar isto. E na própria segunda Crítica ele declara que os problemas que ele se propôs são insolúveis. Mas se ele não pode provar o que se propôs demonstrar, então Kant está meramente afirmando, ou pressupondo, que a razão pura pode ser prática, e explicando como ela pode ser prática através de outro pressuposto, a saber, a liberdade. Mas se este é o caso, ele está envolvido em um argumento circular, e a primeira pergunta feita acima deve ser respondida afirmativamente, a despeito do que ele diz ao contrário (cf. FMM, p. 72).
Kant está bastante ciente do problema a que estamos nos referindo. Com respeito à segunda pergunta feita acima ele afirma que a introdução da liberdade na discussão é útil porque nos ajuda a definir mais exatamente os princípios envolvidos, mas admite que, "com respeito à validade da lei moral e à necessidade prática de sujeição a ela, não nos levará um só passo adiante" (FMM, p. 68). Com respeito à primeira pergunta, acerca da circularidade do argumento, Kant confessa francamente:
"Devemos confessar abertamente que há uma espécie de círculo aqui, do qual parece não haver escape. Pressupomos que somos livres na ordem de causas eficientes para que possamos nos imaginar sujeitos às leis morais, na ordem dos fins. E daí imaginamo-nos sujeitos a estas leis, porque nos atribuímos liberdade de arbítrio" (FMM, pp. 68-69).
Mas a circularidade pode ser evitada, segundo Kant, se distinguirmos os dois pontos de vista mencionados acima, a saber, o homem como membro de um mundo dos sentidos e o homem como membro de um mundo inteligível. Kant resume a discussão da questão com estas observações:
"Agora removemos a suspeita que havíamos levantado, de que havia um círculo escondido em nosso raciocínio, que ia da liberdade à autonomia, e desta à lei moral. A suspeita era que havíamos lançado mão da idéia da liberdade por causa da lei moral, e que depois havíamos derivado a lei moral da liberdade, sendo, portanto, incapazes de justificar a lei, apresentando-a somente como uma petitio principii, que mentes bem dispostas nos permitiriam, mas que nunca poderia ser considerada um argumento demonstrativo. Agora vemos, porém, que se nos consideramos livres, transportar-nos-emos para o mundo inteligível e seremos membros dele, e saberemos que a vontade, bem como a sua conseqüência, a moralidade, é autonôma, enquanto que, se nos considerarmos moralmente obrigados, estaremos nos concebendo como membros tanto do mundo sensível como do inteligível" (FMM, pp.71-72).
Agora é a nossa vez de fazer uma confissão franca: somos inteiramente incapazes de ver como é que estas considerações eliminam o perigo da petitio principii. Não conseguimos compreender quais os elementos deste raciocínio que afugentam a falácia. Podemos mesmo conceder a Kant a sua suposição de qque, se nos considerarmos livres, estaremos nos vendo como membros de um mundo inteligível, e não meramente como membros do mundo sensível, governado pelas leis naturais. Mas a questão crucial é: temos o direito de nos consideramos livres, e, portanto, de postular a existência deste mundo inteligível? A questão não é simplesmente "considerarmo-nos livres", mas "sermos livres" e Kant não oferece evidência de que o sejamos, nem sequer argumentando que o considerarmo-nos livres já, em si, nos torna livres. Pelo contrário, Kant claramente diz que estas questões são insolúveis.
Contudo, para responder a Hume Kant teria que ter provado que aquilo que se opõe aos nossos desejos e interesses é a razão, através da lei moral, e que somoslivres para não seguir as determinações de nossa natureza sensual, a saber, nos momentos em que obedecemos à voz da razão. Não tendo feito isto, somos forçados a concluir que ele não respondeu a Hume, mas simplesmente afirmou aquilo que Hume negava, pressupondo que aquilo que afirmava era verdadeiro e construindo toda a sua filosofia moral naquele pressuposto. Mas se este é o caso, a conclusão se oferece que a seriedade moral de Kant, que é bastante admirável, é muito superior à sua lógica, que, em alguns pontos, deixa muito a desejar.
Abstract
Where as it is widely admitted that Hume's epistemology and philosophy of religion presented serious problems to Kant, which he tried to solve in the first Critique, it has not been widely recognized that Hume's philosophy also posed serious problems to Kant's ethics. This paper tries to show that the basic question of Kant's moral philosophy, as presented in the second Critique, can be conscious attempt to refute Hume's contention that ethics is, and should be, outside the domain of pure reason. It is suggested at the end that Kant really failed to refute the Humean position.
Notas:
1. Cf. Prolegômenos a Toda Metafísica Futura, p. 8 e também toda a Introdução. Toda menção às obras de Kant será feita segundo a tradução Inglesa. As traduções do Inglês são todas nossas. Para facilitar as referências futuras, aqui estão as edições Inglesas utilizadas no texto do presente trabalho, com as respectivas abreviações usadas: CRP - Critique of Pure Reason, traduzida por Norman Kemp Smith (St. Martin's Press, 1965) - mencionada no texto como "primeira Crítica". CRPr - Critique of Practical Reason, traduzida por Lewis White Beck (The Liberal Arts Press, Inc., 1956) - mencionada no texto como "segunda Crítica". PFM - Prolegomena to Any Future Metaphysics, traduzida por Lewis White Beck (The Liberal Arts Press, Inc., 1950) - mencionada no texto como "Prolegomenos". FMM - Foundations of the Metaphysics of Morals, traduzida por Lewis White Beck (The Liberal Arts Press, Inc., 1959) - mencionada no texto como "Fundamentos". LE - Lectures on Ethics, traduzida por Louis Infield (Harper & Row, Publishers, 1963). Todas as referências futuras a estes trabalhos serão introduzidas, em parênteses, no próprio texto. Com referência à primeira Crítica adotamos o procedimento tradicional de nos referirmos à paginação da segunda edição.
2. Cf. CRPr, p. 54: "O meu próprio trabalho, na Crítica da Razão Pura, foi ocasionado pelos pontos de vista céticos de Hume, mas prossegui muito além e discuti toda a problemática da razão teórica pura em seu sentido sintético, incluindo aquilo que é comumente chamado de Metafísica". Cf. Também CRP, B 792, 797.
3. Cf. CRP, B 773; CRPr, pp. 142-147; PFM, pp. 99, 107. Cf. Dieter-Jürgen Löwish, Immanuel Kant und David Hume's Dialogues Concerning Natural Religion - Ein Versuch zur Aufhellung der Bedeutung von Humes Spätschriff für die Philosophie Immanuel Kants, im besonderen für die "Kritik der reinen Vernunft" (Bonn, 1964).
4. Todas as contenções deste parágrafo serão elaboradas e substantificadas no decorrer do trabalho.
5. Estas referências serão dadas e discutidas abaixo, no lugar oportuno.
6. Northwestern University, 1938, pp. 8, 32.
7. C. D. Broad, Five Types of Ethical Theory (Littlefield Adams & Co, 1930, 1965), p. 116.
8. Cf. David Hume, An Inquiry Concerning the Principles of Morality (The Liberal Arts Press, 1957), p. 152. Futuras menções deste trabalho serão introduzidas no próprio texto, depois das iniciais "IPM". Esta é a "segunda Investigação" de Hume.
9. LE, p. 4; cf. LE, pp. 4 sqq.; 15 sqq.
10. Tanto para Kant, como para Hume, a razão tem duas funções principais, uma realizada a priori e a outra a posteriori. Quando se refere à razão empírica, tem-se em mente esta atividade a posteriori da razão, e quando se refere à razão pura, tem-se em mente a atividade a priori da razão. Cf. CRP, B 2-3.
11. Cf. E. Westermarck, Ethical Relativity (Littlefield Adams & Co., 1932, 1960), p. 119; cf. também Bertrand Russell, Human Society in Ethics and Politics (Mentor Book, 1952, 1962), p. 39.
12. Cf. John L. Monthershead, Jr., Ethics (Henry Holt & Co., 1955), p.4.
13. Cf. o sub-título de A Treatise of Human Nature (Penguin Books, 1969). Futuras referências a este trabalho aparecerão no próprio texto, depois da abreviação "TNH". Seguindo a tradição, referir-nos-emos ao Tratado seguindo a divisão em livros, capítulos e seções.
14. "An Inquiry Concerning Human Understanding (a "primeira Investigação", The Liberal Arts Press, Inc., 1955), p. 3. Todas as futuras referências a este trabalho serão introduzidas no próprio texto, depois da abreviação "IEH".
15. Cf. Charles L. Stevenson, Ethics and Language (Yale University Press, 1944, 1967), p. 274.
16. Cf. IEH, cap. 11: "Of the Origin of Our Ideas".
17. Cf. Bertrand Russell, op. cit., p. viii.
18. Cf. IEH, cap. IV.
19. R. David Broiles, The Moral Philosophy of David Hume, (Matinus Nijhoff, 1964), p. 37.
20. Cf. CRPr, p. 63. Cf. também Kurt Baier. The Moral Point of View (Cornell University Press, 1958), pp. 277 sqq. 290.
21. A. P. Cavendish (A. H. Basson), David Hume (Dover Publications, Inc. 1958, 1968), pp. 90, 92.
22. John Laird, Hume's Philosophy of Human Nature (Methuen & Co., 1932), pp. 203-204.
23. Cf. Broiles, op. cit., p. 38.
24. A distinção entre proposições "analíticas" e "sintéticas" é estabelecida em CRP, B 10 e na "Introdução" dos Prolegômenos.
25. Cf. Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol. V, parte 2 (Doubleday & Co., Inc., 1964), p. 131.
26. Stephen KÖrner, Kant (Penguin Books, 1955, 1967), p. 129.
27. Cf. David Hume, "Of the Original Contract", em Political Essays (The Liberal Arts Press, Inc., 1953), pp. 43ff.
28. Cf. Patrick Nowell-Smith, Ethics (Penguin Books, 1954, 1959), pp. 220-221.
29. Cf. a Introdução de Charles Hendel, a IPM, pp. xlviii-xlix.
30. Cf. FMM, p. 23.
31. H. J. Paton, The Categorical Imperative (Harper & Row, Publishers, 1947, 1965), p. 205.
32. Cf. Lewis White Beck. A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason (Phoenix Books, 1960, 1963), pp. 127-128.
33. Cf. Beck, op. cit. pp. 127-128.
34. Cf. Beck, op. cit., p. 164.
35. op. cit., p. 164.
36. Cf. PAton, op. cit., pp. 202, 204-205.
37. Cf. Beck, op. cit., p. 171.
38. Cf. Norman Kemp Smith, The Philosophy of David Hume (MacMillan Press, 1941, 1966z0, pp. 70, 101.
39. Cf. Kemp Smith, op. cit., pp. 154 sqq.
40. Cf. Broad, op. cit., pp. 117, 135.
41. Cf. Mothershead, p. 267 e também Baier, op. cit., p. 278.
42. Cf. CRPr, p. 150.
43. Cf. Baier, op. cit., pp. 277 sqq.
44. Cf. Russel, op. cit., p. 39.
45. Cf. Russell, op. cit, p. viii.
46. Cf. CRPr, p. 43; cf. também FMM, p. 72.
47. Liberdade é "independência das causas determinadoras do mundo dos sentidos"; FMM, p. 71.
48. Aqui podemos notar a influência de Rousseau; cf. Beck, op. cit, p.200.
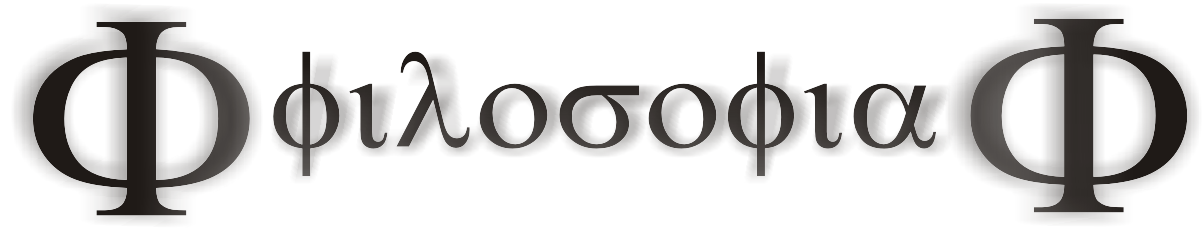
Nenhum comentário:
Postar um comentário